Por Francisco José dos Santos Braga
I. NOTAS EXPLICATIVAS
II. BIBLIOGRAFIA
MORRISON, A.D.: "Apollonius Rhodius, Herodotus and historiography", Cambridge: Cambridge University Press, 2020, 244 p.
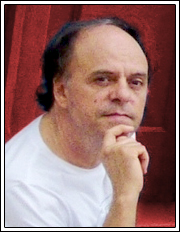 Francisco José dos Santos Braga tem Bacharelado em Letras (Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, atual UFSJ) e Composição Musical (UnB), bem como Mestrado em Administração (EAESP-FGV). Além de escrever artigos para revistas e jornais, é autor de dois livros e tradutor de vários livros na área de Administração Financeira. Participa ativamente de instituições no País e no exterior, como Membro, cabendo destacar as seguintes: Académie Internationale de Lutèce (Paris), Familia Sancti Hieronymi (Clearwater, Flórida), SBME-Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica (2º Tesoureiro), CBG-Colégio Brasileiro de Genealogia (Rio de Janeiro), Academia de Letras e Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei-MG, Academia Valenciana de Letras e Instituto Cultural Visconde do Rio Preto de Valença-RJ, Academia Divinopolitana de Letras, Academia Taguatinguense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e Instituto Histórico e Geográfico de Campanha-MG.Mais...
Francisco José dos Santos Braga tem Bacharelado em Letras (Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, atual UFSJ) e Composição Musical (UnB), bem como Mestrado em Administração (EAESP-FGV). Além de escrever artigos para revistas e jornais, é autor de dois livros e tradutor de vários livros na área de Administração Financeira. Participa ativamente de instituições no País e no exterior, como Membro, cabendo destacar as seguintes: Académie Internationale de Lutèce (Paris), Familia Sancti Hieronymi (Clearwater, Flórida), SBME-Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica (2º Tesoureiro), CBG-Colégio Brasileiro de Genealogia (Rio de Janeiro), Academia de Letras e Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei-MG, Academia Valenciana de Letras e Instituto Cultural Visconde do Rio Preto de Valença-RJ, Academia Divinopolitana de Letras, Academia Taguatinguense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e Instituto Histórico e Geográfico de Campanha-MG.Mais... Por Francisco José dos Santos Braga
I. NOTAS EXPLICATIVAS
MORRISON, A.D.: "Apollonius Rhodius, Herodotus and historiography", Cambridge: Cambridge University Press, 2020, 244 p.
Como se vê, a escolha do autor deste livro que recaiu sobre mim, para compor este prefácio, seu amigo mais novo — e não sobre alguém mais merecedor desse mimo, algum amigo da primeira hora ou do seu círculo de amizades que é imenso — deve-se ao motivo óbvio de que ele espera que eu revele ao público leitor particularidades da minha convivência com seu homenageado nos discursos que pronunciou.
Conheci Dr. Roque Camêllo quando participei, como Secretário, da Chancelaria da Comenda da Liberdade e Cidadania em 2011 capitaneada pelo Chanceler da Comenda, Dr. Eugênio Ferraz, então Superintendente do Ministério da Fazenda em Minas Gerais. Trouxe este, para o lançamento da medalha da referida Comenda no Campo das Vertentes, a experiência de ter sido Chanceler e criador da primeira edição da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, criada um ano antes, em julho de 2010. Sobre a Comenda, vale ressaltar que ela nasceu através de um decreto conjunto dos Prefeitos de 3 Municipalidades: São João del-Rei, Tiradentes e Ritápolis.
Meu primeiro contato com Dr. Roque, durante a realização da festa de entrega das Comendas na Fazenda do Pombal, berço do Tiradentes e do seu sonho de liberdade, foi, a um só tempo, um momento de congraçamento e de percepção de sua mineiridade contagiante. Mas não podia passar despercebido a qualquer observador mais atento, — e este foi o meu caso, — que sua atividade política lhe trouxera, por um lado, grandes alegrias, por outro, inevitáveis desilusões, “estas tanto mais amargas na medida em que agravadas pelos erros, pelas disfunções, pelas insuficiências da máquina judiciária eleitoral”, nas sábias palavras do ex-Ministro do STF, Dr. Francisco Rezek. (“Os sinos de Mariana”, in O Roque Camêllo que conheci, livro organizado por Mário de Lima Guerra, em 2019.)
Outro momento inesquecível foi nosso reencontro no Seminário “Meandros da Inconfidência Mineira” patrocinado pelo IHG de São João del-Rei, em 12 de novembro de 2015, quando ele, com sua presença ilustre, prestigiou os confrades são-joanenses, sobretudo a mim que estava proferindo a palestra “Baptista Caetano de Almeida e seus projetos civilizatórios”. Só com o passar dos anos de nossa convivência, pude verificar que sua razão de ser eram seus projetos culturais para Minas grande, para os quais investia todo o seu prestígio pessoal e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Cabe relembrar aqui que um de seus últimos compromissos assumidos foi o de presidente da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico da OAB/MG. No dia da instalação da referida Comissão (21/10/2013), o Informativo “OAB-Minas Gerais”, de 22/10/2013 publicou a seguinte notícia:
“Segundo Roque Camêllo, a Comissão já foi devidamente criada e instalada, sendo que será possível a posse dos membros assim que ela for completamente formada. Ele acrescentou que pretende convidar integrantes das seguintes subseções para fazer parte da Comissão: Mariana, Ouro Preto, Poços de Caldas, Governador Valadares, Congonhas, São João del-Rei, Tiradentes, Diamantina, Sabará, Serro, Paracatu, Minas Novas, Santa Bárbara, Barbacena, Montes Claros, Juiz de Fora, Uberlândia, Sete Lagoas, dentre outras. Roque Camêllo ainda salientou que o objetivo da Comissão é valorizar as raízes históricas do povo mineiro. ‘Preservar a história é não apenas reverenciar o passado, mas construir os caminhos que constroem o futuro. O povo que sabe de onde veio sabe traçar o seu próprio destino. Minas Gerais, não sendo o mais velho Estado da Federação, no entanto, é o Estado do equilíbrio nacional e representa os anseios de todo o povo brasileiro que prima por privilegiar o sentimento libertário a exemplo dos Inconfidentes’.” (texto transcrito no Informativo AVL nº 121, Ano XI, novembro de 2013)
“O tempo foi exíguo para singrar as águas de Minas que não tem mar, mas é um oceano de Cultura e um continente de patriotismo.”
Por serem por demais conhecidos tais projetos do Dr. Roque Camêllo em prol de Mariana, Minas Gerais e o Brasil, acho que não devo me alongar apresentando a relação completa de suas benemerências. Mas devo confessar que foi tão grande a nossa identificação, — minha com a do notável marianense, orador consagrado e mestre pela sua cultura literária, jurídica, religiosa, filosófica e histórica, de que deu provas suficientes por onde passava, — eis que, desde 2012, Dr. Roque e sua esposa Merania participaram com sua rica presença de todos os eventos culturais que desenvolvi nas Academias, mormente defesa de meus patronos no IHG de São João del-Rei e nas Academias de Barbacena, Formiga e Divinópolis, esta última em 14 de dezembro de 2016, quando já se encontrava fisicamente debilitado. Também devo a Dr. Roque Camêllo o convite ao duo constituído por mim ao piano e minha esposa Rute Pardini, cantora lírica, para participar das comemorações dos 40 anos do Museu da Música de Mariana, ocorridas em 6 e 7 de julho de 2013, quando pudemos observar a alegria contagiante, o brilho e o esforço de todos os envolvidos nos festejos. Finalmente, cabe aqui mencionar minha gratidão por terem Dr. Roque e Merania prestigiado a apresentação do Coral Trovadores da Mantiqueira quando da segunda récita da cantata O Peregrino de Assis, da autoria do regente frei Joel Postma o.f.m. e em meu acompanhamento ao piano/órgão, em 30 de novembro de 2013.
Entretanto, não posso me furtar a trazer ao conhecimento público que um de seus extremos atos de vontade, à véspera de seu óbito, em 17 de março de 2017, foi o de convidar-me para tomar parte do enriquecedor convívio com os Acadêmicos deste sodalício marianense, convite este que foi imediatamente aceito por mim, esperando trabalhar sob seu comando durante muitos anos vindouros.
Quis o Criador que assim não fosse... Dr. Roque, no convite a mim endereçado, expressou o desejo de que eu tomasse posse na Cadeira nº 2, cujo patrono é Dr. Francisco de Paula Cândido, seu antepassado mais famoso, atribuindo a mim qualidades que não possuo: acreditava ele que apenas eu, pesquisador de História e Genealogia, seria capaz de fazer uma apologia à altura do grande mestre e médico do Império.
Tenho ainda a dizer que, desde que foi informada desse desejo de Dr. Roque por intermédio dos amigos escultor Hélio Petrus e jornalista Merania de Oliveira, a nova Presidente eleita da Casa de Cultura e Academia Marianense de Letras Hebe Rôla manteve o desejo expresso de Dr. Roque de ter-me como membro desta Academia, honrando, com sua tradicional elegância e espírito acolhedor, o compromisso de Dr. Roque para comigo e, ao comunicar-me esse fato, ela informou-me que teria o prazer de dar-me posse na Academia Marianense como o último ato de sua gestão à frente desta excelsa e nobre Casa de Cultura. Que assim não seja e que possamos ser comandados por esta grande pedagoga e parceira fiel de Dr. Roque em todos os momentos.
Portanto, à Profª Hebe, escritora, ensaísta, poetisa e folclorista, criadora e coordenadora da Academia Infanto-Juvenil de Letras de Mariana e criadora e promotora do “Cantando Alphonsus”, em parceria com o Museu casa Alphonsus de Guimaraens, sou eternamente grato pela amabilidade em me acolher em meio a esta plêiade de literatos reunidos na “Primaz de Minas”, Mariana, que acumula os títulos de primeira Vila, Cidade e Capital de Minas Gerais, tendo, além disso, sediado a primeira Diocese de Minas Gerais (ereta no dia 6 de dezembro de 1745).
A seguir, passo a comentar todos os discursos que fazem parte deste livro.
No seu primeiro discurso, proferido em 8 de abril de 2016, durante um jantar de confraternização oferecido no restaurante da Pousada Contos de Minas, o autor Dr. Arnaldo de Souza Ribeiro ressalta as festividades que presenciou na Casa de Cultura-Academia Marianense de Letras, em homenagem aos 305 anos da criação da Vila de Mariana, representadas por dois eventos principais: o lançamento do livro “Mariana: Assim nasceram as Minas Gerais”, da autoria de Dr. Roque Camêllo, qualificando-o de “um duplo e importante registro em palavras e imagens”, e a sua participação no descerramento de placa alusiva à comemoração da referida data histórica. Neste pronunciamento, que o autor fez, considerou que o episódio que acabara de presenciar lembrou-lhe outro de igual relevância e motivo de alegria: os festejos ocorridos em Mariana em novembro de 1748, registrados no livro “Aureo Throno Episcopal” e organizados para recepcionar o primeiro Bispo de Mariana, Dom Frei Manoel Ferreira Freire da Cruz, que chegou a Mariana em outubro vindo do Maranhão, depois de exaustiva e corajosa viagem que durara quatorze meses. Essa espetaculosa aventura pelos sertões foi relatada em pormenores no seu ensaio histórico Aureo Throno Episcopal, “escrito em homenagem ao professor, historiador e escritor marianense Roque Camêllo” e integrante do livro “Hipérboles” (Itaúna: Editora Ramos, 2017, p. 199-218). Às páginas 213-4 do referido ensaio consta a seguinte citação de Dr. Roque Camêllo que transcrevo:
“Durante o longo percurso de quatro mil quilômetros, sofreu enfermidades e quase morreu em travessia de rios caudalosos. O Bispo foi recebido pelas autoridades e pela população com grandes festejos por diversos dias. Em Portugal, por iniciativa do Cônego Francisco Ribeiro da Silva, aqueles famosos acontecimentos foram registrados no livro “Aureo Throno Episcopal”, publicado em 1749. Além do relato, trazia coletânea de peças literárias alusiva aos festejos com poesias e discursos. Falava-se numa Academia cultista de Letras ou Academia do Áureo Throno, um prenúncio das futuras Academias de Letras no Brasil. Embora Dom Frei Manoel da Cruz tentasse evitar que os diocesanos se excedessem, cumpriu-se em Mariana um variado programa de comemorações públicas.” (CAMÊLLO, Roque: Mariana: Assim nasceram as Minas Gerais. Belo Horizonte: Roma Editora, 2016, p. 72)
O terceiro discurso foi proferido em 27 de novembro de 2016, após uma tournée pela cidade de Mariana, que foi coroada pela visita da comitiva de Itaúna e Cordisburgo ao Museu da Música de Mariana, não só “Casa de arquivos, estudos e pesquisas”, mas também de restauração e difusão de partituras, de preservação e audição de músicas inéditas, de memória, arte e educação, por fim, local de encontros temáticos na cidade de Mariana.
O quarto discurso foi pronunciado, a convite dos familiares de Dr. Roque Camêllo, após a Missa de sétimo dia do passamento do seu parente, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no dia 24 de março de 2017. Dr. Arnaldo utilizou um trecho do Sermão da Sexagésima de Pe. António Vieira pregado na Capela Real no ano de 1655, em que o grande orador sacro português lembra a seus ouvintes a diferença entre ouvir palavras e ver obras, concluindo que “a nossa alma se rende muito mais pelos olhos que pelos ouvidos”. Em seguida, mostrou como Dr. Roque, seminarista que foi em Mariana, ouviu e recordava-se sempre dos ensinamentos de Vieira que lhe calaram fundo na alma e na memória. E, finalmente, reconheceu que Dr. Roque praticava com a maior discrição a caridade que todos conheciam, não através de sua boca, mas de suas obras, como ficou evidenciado nos muitos trabalhos em prol de Minas e de Mariana, da Catedral de Mariana e da igreja de Nossa Senhora do Carmo.
No discurso seguinte, o quinto, Mário Mafra, diretor administrativo e financeiro da Editora do Brasil S/A, aparteou Dr. Arnaldo na igreja Nossa Senhora do Carmo na mesma data de 24 de março de 2017, após ouvir as corretas palavras do orador que o precedeu, reafirmando as grandes qualidades de Dr. Roque Camêllo: a de orador e incansável trabalhador. A seu ver, como bom discípulo de Padre António Vieira, Dr. Roque Camêllo aprendeu a importância de “falar bem, para que as palavras alcancem os ouvidos e trabalhar muito, para que entrem pelos olhos e alcancem a alma.” Permitiu-se, entretanto, acrescentar outra característica no modo de agir de Roque Camêllo, fruto de sua experiência, isto é, “o profundo respeito que ele nutria pelas opiniões contrárias às suas. Em outras palavras: longe de se insurgir contra elas, Roque Camêllo reverenciava a divergência. (...)”
O sexto discurso foi pronunciado por Dr. Arnaldo, que fez parte de um elenco de brilhantes oradores que enalteceram a fundação do Instituto Roque Camêllo, sob a presidência do Desembargador Caetano Levi Lopes, solenidade realizada no Teatro do Hotel da Providência em Mariana, ocorrida um ano após o passamento do homenageado, ou seja, no dia 18 de março de 2018, ocasião em que foi dada posse à Diretoria da entidade e nomeados os Conselheiros Honorários, tendo como elemento norteador da ação do novo Instituto o sonho que inspirou toda a vida e obra de Dr. Roque, que ele, em vida, enunciou da seguinte forma:
“As pessoas se distanciam, cada vez mais, de sua verdadeira função social e divina, que é a de doarem-se uns aos outros com aquilo que elas têm de melhor. Não é o que elas possuem, mas o que elas são. Gostaria de criar uma Instituição que tornasse isso possível, gerando o que chamaria de uma CORRENTE DO BEM. Desejo que esta entidade seja para ajudar o ser humano a SER e não a TER, além de ensinar as pessoas a preservarem o patrimônio histórico e a natureza.”
O sétimo discurso foi proferido por Prof. Raimundo da Silva Rabello, membro do IHG-MG, da Academia Itaunense de Letras e autor do livro “O payz do Pitanguy (Séculos XVIII-XIX): ouro, rebeldia e expansão regional”, na noite do sexto dia, véspera do encerramento da Semana Guimarães Rosa, evento solene patrocinado pela Academia Itaunense de Letras - AILE (10 a 16 de setembro de 2018) em homenagem aos 110 anos de nascimento do grande escritor cordisburguense, João Guimarães Rosa (1908-2018). Em sua fala, aplaudiu, homenageou e celebrou o saudoso cultor das letras e das artes, o inolvidável professor e intelectual Dr. Roque Camêllo.
Inicialmente, relembrou a agradável convivência deles durante o longo curso de Política e Estratégia pela doutrina da Escola Superior de Guerra (ESG), através de seu braço civil durante 1985. Ambos participaram da primeira turma de estagiários da Nova República que se intitulou “Turma Presidente Tancredo Neves” por ter escolhido para seu patrono o falecido Presidente mineiro que se destacou como um político conciliador, o que lhe valera em vida o epíteto de “linha auxiliar do governo”, quando a ESG trocou seu discurso da segurança nacional pela ênfase na conciliação política e no desenvolvimento social.
Sobre sua convivência no IHG-MG citada no seu discurso, cabe ainda citar que Dr. Roque Camêllo tomou posse como sócio efetivo nesse sodalício em sessão solene do dia 20 de novembro de 2010, na Cadeira nº 66, patroneada pela Princesa Isabel, a Redentora. Seu discurso de posse foi uma apoteose para todos os que estavam presentes, daquela espécie que marca os anais de uma Casa de História, relembrada até hoje pela enorme comoção que provocou em todos os confrades. Aí estavam bem caracterizadas a oratória inconfundível do mestre e sua propensão a abordar os fatos à luz da História, que vão desabrochar, de forma plena e candente, na sua última obra “Mariana: Assim nasceram as Minas Gerais” (2016). A posse de Dr. Roque no IHG-MG foi lembrada pelo vice-presidente do IHG-MG, Prof. Raymundo Nonato Fernandes, em pronunciamento feito a posteriori, que a considerou a segunda grande manifestação de caloroso apoio que Dr. Roque recebeu e assim se expressou sobre a presença do novo confrade:
“(...) Por tudo que fez, que faz e que é, o Doutor Roque José de Oliveira Camêllo, na sua terra, entre vultos históricos de grande notoriedade é hoje o maior homem vivo de Mariana. Por isto, a interrupção de seu mandato de prefeito na sua adorada Mariana causou perplexidade a toda a sociedade mineira. Numerosas foram as manifestações organizadas em sua solidariedade e apoio enquanto se aguardam as festas de seu retorno ao cumprimento do mandato interrompido, tantas eram as realizações esperadas de sua competência e brilho como grande benfeitor de sua querida terra. As duas últimas manifestações de apoio a Roque Camêllo se deram em maio e novembro deste ano. A primeira foi nos salões elegantes do Automóvel Clube de Belo Horizonte promovida pela Diretoria Regional da Associação Universitária Internacional – AUI/MG sob a direção do Meritíssimo Juiz Doutor José Adalberto Coelho (...) A outra grande manifestação de caloroso apoio se deu em 20 de novembro no centenário Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, na soleníssima sessão de sua posse como sócio efetivo da venerável Instituição. Não se tem notícia de uma solenidade tão grandiosa na memória recente desse renomado Instituto. As crianças de sua terra vieram cantando. Formavam o Coral “Tom Maior” de Mariana sob a presidência do Dr. Efraim Rocha. Presentes numerosas autoridades civis e religiosas, Bispo, Desembargadores, professores, escritores, advogados. Ouviram-se discursos de superior cultura jurídica e histórica. Foi um evento emocionante e emocionado para todos e inesquecível às crianças e inúmeros jovens estudantes da terra de Roque Camêllo que jamais esquecerão as emoções daquele dia. (...)”
“Roque José de Oliveira Camêllo, que se compõe ao lado de celebrados e ilustres filhos de Mariana, honra essa tradição de um berço nobre que representa, engrandece e nos faz lembrar aquele ser humano a que se referia Garcia Lorca ao dizer: ‘vai demorar muito para nascer, se é que nasce, um homem como ele’. ¹”
Outro ensaio interessante de Dr. Arnaldo se intitula “Bolsos cheios, barriga vazia: ouro e fome em Minas Gerais”, texto que serviu de base para proferir palestra no VII Congresso promovido pela Associazione Italiana di Storia Urbana-AISU, realizado de 2 a 5 de setembro de 2015, na Universidade de Pádua, na Itália. Foi publicado na coletânea “Olhares Múltiplos”, organizada por Toni Ramos Gonçalves, Itaúna: Gráfica Daniela, 2016, p. 61. Através de farta bibliografia sobre culinária mineira, o autor descobriu que nossos antepassados fizeram uso de seus saberes e o que a natureza podia oferecer-lhes para buscar na colheita, na caça e na pesca os ingredientes necessários à sua sobrevivência. Dessa forma, legaram um cardápio variado que materializa suas tradições e cultura. Souberam transmutar saberes em sabores que nos cabe degustar e divulgar a Minas Gerais, ao nosso País e ao mundo.
Consta também do presente livro o pronunciamento do Prof. Raimundo da Silva Rabello, datado de 17 de dezembro de 2014, diante de luzidia plateia no distrito de Leandro Ferreira, sua terra natal, à qual compareceu para o lançamento de seu livro “O Payz do Pitanguy” coeditado pela Universidade de Itaúna-UIT. Em sua fala, Prof. Rabello esclareceu que seu livro se compunha de três partes: Pitangui, Leandro Ferreira e Conceição do Pará.
Deu relevo aos seguintes pontos ocorridos em Pitangui: a Rebelião de Domingos Rodrigues do Prado, a Devassa da Inconfidência Mineira, Padre Belchior e D. Pedro I e, por fim, Gustavo Capanema, ministro da Educação de Getúlio Vargas e deputado e senador. En passant, tratou também de duas famigeradas “heroínas”: Joaquina de Pompéu e Maria Tangará, personagens de acirradas disputas entre admiradores e detratores, quase 100 anos depois de falecidas, o que evidencia a importância que representaram enquanto vivas.
De sua terra natal, o autor acentua em sua fala as presenças do fundador Leandro Ferreira (de Siqueira), da Baronesa Isabel de Sam Payo e do Santo das Terras do Poente (ou Padre Libério).
De Conceição do Pará, mereceram especial destaque do orador: o Santuário Nossa Senhora da Conceição, as trilhas de bandeirantes e estradas reais (dentre as quais mencionou a Picada de Goiás, que, passando por Pitangui, encurtou a distância Pitangui-São Paulo).
Embora o livro “O Payz do Pitanguy” documente de forma abrangente dois séculos de história, em seu pronunciamento, em respeito às pessoas e ao tempo, o autor elegeu os pontos mais relevantes e o fez com invulgar maestria, merecendo o aplauso geral.
Para encerrar o livro com chave de ouro, Dr. Arnaldo achou por bem transcrever um ensaio de Dr. Roque Camêllo que foi publicado originalmente na revista Justiça e Cidadania, edição 133, setembro de 2011, p. 48-50, intitulado “Inconfidente Cláudio Manoel da Costa: primeiro advogado assassinado em Minas”. ²
Começa seu artigo informando sobre a naturalidade marianense do poeta, já que nasceu em Mariana em 5 de junho de 1729. ³ Como, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, dois séculos após o descobrimento do Brasil, houve intenso fluxo migratório, houve muitos conflitos na região mineradora, podendo essa época ser resumida como um tempo em que o direito da força se sobrepunha à força do direito. Ao constatar esse fato, citou muitas refregas como a Guerra dos Emboabas, que resultou na expulsão dos paulistas (bandeirantes) da região de conflito, ali se estabelecendo os “forasteiros”, estes representados por hordas de portugueses, nordestinos, mineradores clandestinos (sem a titularidade das jazidas descobertas) e até figuras do clero.
Como o pai do poeta, João Gonçalves da Costa, era português, portanto emboaba, se fixou no sítio da Vargem no território da Vila do Carmo que, junto da vizinha Vila Rica, se constituía no mais significativo e importante centro urbano e aurífero da Capitania. Embora fosse de família modesta em Portugal, João Gonçalves conseguiu amealhar um razoável patrimônio, suficiente para dar aos filhos certo grau de instrução, inclusive mantendo-os em Coimbra, oportunidade de que Cláudio usufruiu. Após preparar-se no Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro, foi admitido, em 1º de outubro de 1749, na Universidade de Coimbra, cursando Cânones, pois, pensava em ordenar-se sacerdote, desejo não realizado.
Voltando a Minas, em 1754 é nomeado almotacé junto à Câmara de Mariana. Em 1758 toma posse como terceiro vereador da Câmara de Vila Rica. Desde 1759, o poeta manteve uma relação permanente com Francisca Arcângela de Souza, nascida escrava e alforriada quando deu à luz o primeiro filho de Cláudio, com a qual teve cinco filhos. A seguir, teve uma carreira brilhante para a época: diz Dr. Roque que
“sua vida é um rosário de títulos e funções públicas de alta relevância, chegando a juiz das demarcações de sesmarias. O rei lhe concedeu pátria comum e o Hábito de Cristo, premiando-o pelos relevantes serviços prestados ao Reino. (...) Cláudio foi um dos profissionais do Direito mais requisitados nas Câmaras de Mariana e Vila Rica, havendo, ainda hoje, registro de sua atuação em dezenas de processos.”
“advogava para os contratadores. Tais funções lhe rendiam ótimos honorários. Com tanta renda, proveniente de sua profissão e da atividade mineradora, tornou-se credor de extraordinária clientela de cujo rol fazia parte o Visconde de Barbacena.”
“há indagações que se respondem por si próprias. Por que o aprisionaram em Vila Rica e não o conduziram para o Rio de Janeiro como os demais? Barbacena o queria por perto para controlar-lhe a fala perigosa quanto a seu governo e à sua simpatia pelo movimento?”
“o Visconde de Barbacena é o mesmo que Cláudio tinha no rol de seus devedores e que interceptara uma valiosa peça, um cacho de bananas em ouro maciço, enviado por Hipólita Jacinta Teixeira de Mello a D. Maria I, pedindo clemência a favor de si e de seu marido, o inconfidente Francisco Antônio de Oliveira Lopes.”
“A celebração dos sufrágios é a prova inconteste de que Cláudio Manoel da Costa fora assassinado. Além do mais, há o reconhecimento oficial pelo poder civil quando se vê documentado que a Fazenda Real arcou com as despesas dos ditos sufrágios.”
Deste modo, com sete discursos e quatro ensaios, de sua lavra e convidados, o Dr. Arnaldo de Souza Ribeiro sintetiza o trabalho e presta relevante tributo ao grande marianense Dr. Roque José de Oliveira Camêllo.
Dedico este trabalho literário ao saudoso Professor Mário Celso Rios (✰ Barbacena, 1952 - ✞ Barbacena, 13/10/2020), 2º presidente da Academia Barbacenense de Letras cuja estrela brilhou durante 27 anos (1993-2020) como grande incentivador das letras na comunidade cultural de Barbacena, da Região das Vertentes e de Minas Gerais, ensinando o poder e a magia das palavras e sempre dirigindo e orientando ex cathedra e com seu espírito de luz as tertúlias e atividades literárias de forma sempre cavalheiresca que enobrece o Brasil a partir de Barbacena.
A propensão dos poderosos do mundo, condutores de povos ou chefes de exércitos, de inclinar na direção favorável a seus desígnios ou a seu prestígio as representações da geografia, teve, como era natural, seus efeitos mais sensíveis sobre as dessas representações que tinham um caráter mítico ou esquemático.
O caso dos Hiperbóreos tem o interesse de mostrar que o próprio pensamento científico sofreu a influência do que foi dito acima, pelo menos em certas abordagens.
O nome puramente grego de Hyperbóreos traz em si a marca duma reflexão que se praticou, bem antes da idade clássica, sobre um dos mais tocantes entre os fenômenos físicos próprios à natureza mediterrânea: este vento frio do Norte que, sob as denominações populares modernas de bora ou de mistral — os antigos Gregos o chamavam Bóreas — resvala de vez em quando para o litoral passando rente ao sol com uma tal violência que o poeta Calímaco ¹ dizia ser capaz de tombar muralhas.
A gente se imagina que, avançando contra esse vento, na direção do interior do continente, como se subisse contra a corrente, acabaria por atingir os locais onde ele nasce, sendo possível ter uma ideia dos locais com o aspecto de montanhas comunicando à atmosfera a friagem de suas neves. Os Gregos deram a essas montanhas setentrionais imaginárias o nome de Rípeas, já presente na poesia arcaica ² e considerado pelo gramático Servius ³ como formado do termo grego ῥιπή que exprime a ação de lançar. Do alto dos montes Rípeos, Bóreas era de alguma forma lançado na direção das planícies mediterrâneas.
Essa figura, uma das mais antigas que produziu a geografia mítica dos Gregos, foi também uma das que resistiram pelo mais longo tempo aos progressos do conhecimento objetivo. Ainda na época imperial romana, arranja-se um lugar para os montes Rípeos na descrição da Europa. Reencontramo-los no século II d.C. na Geografia de Ptolemeu (III, 5, 10), relegados é verdade às regiões muito mal conhecidas onde esse sábio situava, ao norte do Palus Meotide ⁴, a nascente do rio Tanaïs. Um geógrafo latino que precede Ptolemeu cerca de um século, Pomponius Mela, contemporâneo do imperador Cláudio, permanece fiel à ótica tradicional quando imagina esses montes Rípeos orientais lançando, na direção do litoral meridional da Europa, as águas do Tanaïs: “Tanais ex Rhipaeo monte dejectus... praeceps ruit. ⁵”
 |
| Mapa múndi segundo Pomponius Mela (ca. 40 d. C.) |
Era uma representação menos afastada das realidades geográficas que a de um “outro mar”, ἡ ἑτἐρα θάλασσα — assim a designa um historiador grego ⁶ contemporâneo de Heródoto — banhando ao Norte o contorno do continente europeu, e se coloca a questão de saber como tal noção tinha podido brotar no espírito dos Gregos dos tempos pré-clássicos, apesar de nada, no universo que lhes era familiar, ser de natureza a lhes fazer imaginar costas marítimas setentrionais ⁷ opostas às do Mediterrâneo.
Esse traço da configuração geral da Europa só pôde ter sido levado a seu conhecimento na ocasião dos contatos que tiveram com estrangeiros que haviam visto com seus olhos o Báltico ou o mar do Norte.
Contatos dos Helenos com o mundo setentrional na época do comércio do âmbar
Uma orientação útil à nossa pesquisa dá Heródoto (III, 115-116) quando ele, depois de ter rejeitado como não fundada a crença na existência dum rio Erídano “desembocando no mar setentrional donde, segundo se diz, viria o âmbar”, bem como na existência de “ilhas Cassitérides donde nos viria o estanho”, afirma como um fato incontestável que o estanho e o âmbar “provêm de uma extremidade do mundo”.
Com efeito, o estanho era de proveniência britânica, enquanto o âmbar era recolhido da costa oeste da Jutlândia, e sobretudo na costa do mar Báltico, no sopé dos penhascos ocidentais da península do Samland (ou Sambia), próximo à foz do Vístula. ⁸
Para atingir as costas mediterrâneas, essas matérias preciosas deviam atravessar, de um lado ao outro, o continente europeu, e isso desde tempos que, pelo menos no que diz respeito ao âmbar, remontam à segunda metade do segundo milênio antes de nossa era.
No período heládico médio (2.100-1.580 a.C.), observa M.-P. Nilsson ⁹, nenhum traço de âmbar vindo do Norte ainda não aparece na Grécia. Ao contrário, esse âmbar fica abundante a partir de heládico recente ou micênico (1.580-1.200). Três dos túmulos escavados em poços sobre a acrópole de Micenas e um dos túmulos com cúpula de Pylos de Nestor forneceram centenas de pérolas de âmbar ¹⁰. O âmbar está descrito na Odisseia ¹¹ como um objeto de adorno muito cobiçado.
O fato de que os Helenos recebiam o âmbar recolhido das costas dos mares setentrionais não implicava necessariamente que eles conhecessem a situação das jazidas fornecedoras dessa matéria. A história do comércio oferece mais de um exemplo do caso em que os usuários e os consumidores duma coisa comprada consideraram essa coisa como originária não do país do qual ela era recolhida ou criada, mas do país onde se encontravam os mercados que a arranjavam para eles. Este foi o caso dos Gregos para o âmbar, que a lenda representava como proveniente da solidificação das lágrimas vertidas pelas Helíades, irmãs de Fáeton, o imprudente condutor da carruagem do Sol, quando elas prestavam as honras fúnebres a seu irmão fulminado por Zeus e precipitado no rio Erídano ¹² (esse nome que Heródoto assinala como designando um rio do litoral setentrional da Europa, se ligava também, na linguagem poética ¹³ , ao curso do rio Pó). Apolônio de Rhodes na parte de suas Argonáuticas (IV, 505-506 e 596-611), onde lembra essa lenda, situa, perto da litoral adriático onde desemboca o Erídano, uma fabulosa ilha Électris (ilha do âmbar) que é a figuração poética dum mercado do âmbar. O fundo do golfo adriático era de fato, na antiguidade grega, um dos principais locais de carregamento ¹⁴ do transporte de barcos por terra, pelos quais o âmbar coletado nos litorais setentrionais da Europa era encaminhado para o mundo mediterrâneo.
Esse tráfego teria podido acontecer do mesmo modo sem que os Helenos tivessem contatos com os fornecedores ou exploradores das jazidas de âmbar. Heródoto narra (IV, 33) que, de seu tempo, as pessoas de Delos se lembravam de que oferendas, outrora enviadas desde o Norte da Europa até aquela ilha famosa, celebrada no mundo antigo como o lugar de nascimento de Apolo ¹⁵, eram sucessivamente assumidas pelos povos em cujo território elas tinham que atravessar para atingir Delos, ao final de uma série de etapas, estando uma dessas últimas situada na costa adriática. Joseph Dechélette ¹⁶ pensa que, da mesma maneira, vários povos se revezando ao longo do caminho metiam a mão sucessivamente no transporte de âmbar do Norte em direção aos países mediterrâneos.
Mas Heródoto disse também na mesma passagem que, antes que fosse praticado esse modo de encaminhamento, os próprios remetentes setentrionais das oferendas destinadas ao santuário de Delos as tinham acompanhado até o término da viagem, e que naquela ocasião eles tinham periodicamente enviado delegações aos habitantes de Delos, às quais estes últimos davam o nome de Perphéres.
Plínio o Velho, classificando de fabulosas várias das coisas estranhas que se narrava sobre os homens do Norte, achava seus envios de oferendas à Delos, como uma realidade que ele não estava autorizado a colocar em dúvida. ¹⁷
Não podemos em todo caso rejeitar a priori a ideia de que, nos tempos muito anteriores à idade clássica grega, os Helenos tenham tido relações diretas com os portadores da civilização superior, que, na idade do bronze, floresceu em Jutlândia bem como nas ilhas dinamarquesas, das quais o Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague, conserva testemunhos notáveis. ¹⁸
O fato de que objetos votivos provenientes do Norte tenham sido levados, de uma borda a outra da Europa, até Delos para aí serem apresentados como oferendas rituais prova que essas relações se desenvolveram tanto no plano das trocas de crenças e de ideias quanto no da economia. Nos tempos proto-históricos, na parte oriental da planície do Pó e principalmente em Veneza ¹⁹, nos países cujos povos detinham os principais mercados do âmbar, aparecem, reveladas pela arqueologia, representações míticas do cisne e do disco solar, cujo análogo se acha na outra borda da Europa, nos países cujos povos detinham as regiões produtoras do âmbar ²⁰. Na mitologia grega da idade clássica, a lembrança desses antigos elos cultuais está conservada pela lenda dum Apolo migrante, deixando periodicamente ²¹ a Grécia para ir permanecer entre os habitantes do mar setentrional e retornar de lá montado num cisne ou num carro aéreo rebocado por um bando de cisnes. ²²
Dos povos do Norte aos Helenos, a comunicação de certas atitudes religiosas foi junto com a transmissão de mais de uma noção geográfica. Não se saberia, sem referência a essas antigas relações, explicar o fato de que Homero ²³ tenha podido imaginar noites de verão tão breves que um pastor capaz de prescindir do sono (ἄυπνοϛ) não pararia de ali ver bastante claro para guardar, durante vinte e quatro horas sem interrupção um rebanho de bois, depois um rebanho de carneiros, e ganhar assim duplo salário.
E sobretudo os Gregos ficaram sabendo, no contato de seus visitantes vindos do Norte, que a orla setentrional do mundo era uma costa marítima habitável. A imagem que eles formavam do universo deixava então de ser demarcada, do lado do Norte, pelos montes Rípeos. Ela se enriquecia de um novo domínio que era o espaço ocupado pelos povos de além dos montes Rípeos.
O fato de que, na época de Pausânias (V, 7, 8), por sua referência ao poeta Olen ²⁴, nos autoriza a considerar como anteriores à história, os Gregos deram a esses povos o nome de Hyperbóreos cujo sentido era claro. Os Hyperbóreos, explica Diodoro de Sicília (II, 47), são “assim chamados porque vivem além do ponto de onde sopra Bóreas”, quer dizer, além desses imaginários montes Rípeos sobre os quais se supunha nascer Bóreas. Heródoto (IV, 36) se recusa, com reserva, a considerar esse nome de Hyperbóreos como a autêntica denominação dum povo além do helênico, que se denuncia ele próprio como uma invenção grega. Mas ele não pode deixar de utilizá-lo por falta de possuir um outro termo à sua disposição, quando ele quer (IV, 33-35) informar seu leitor das memórias que se guardavam em Delos de antigas relações que, tomando forma de remessas rituais de oferendas em relação com a comemoração do nascimento de Apolo, tinham se estabelecido outrora entre os povos do Norte e a Grécia. Era também sob o nome de Hyperbóreos que a mitologia designava os povos longínquos, junto aos quais supostamente Apolo permanecia em estadas periódicas ²⁵.
Situação geográfica dos Hyperbóreos
Criada para exprimir a ideia do extremo Norte, o nome de Hyperbóreos foi de fato, na sua acepção primeira, aplicado pelos antigos a todos esses povos europeus que eram considerados como os mais afastados tanto na direção do Norte quando nas do Noroeste ou do Nordeste. Pôde assim servir para designar povos que, na nomenclatura geográfica moderna, não seriam classificados entre os nórdicos.
É o que mostra, entre outros exemplos, a maneira com a qual se exprimem Heródoto e Píndaro na alusão que fazem um e outro a um grande itinerário transcontinental que, sob a designação de Ister ou Istros (Danúbio), partia de onde os Celtas se estabeleceram vizinhos dos Pireneus e do Oceano para terminar, no outro extremo da Europa, à foz do verdadeiro Danúbio: “O Istros”, diz Heródoto (II, 33), “começa no país dos Celtas perto da vila Pireneu ²⁶”; enquanto que Píndaro, na sua 3ª Olímpica (25-29), situa a nascente “umbrosa“ do Ister no país dos Hyperbóreos, servidores de Apolo” (esta palavra umbrosa, sinônima de: situada no lado da noite, isto é, no poente, significa que, no pensamento de Píndaro, os Celtas encostados na vertente atlântica dos Pireneus se incorporam a uma série de povos hyperbóreos sucedendo-se de oeste em leste sobre a margem oceânica do mundo). Ésquilo situava do mesmo modo a nascente do Istros ²⁷ no país dos Hyperbóreos. A assimilação dos Celtas aos Hyperbóreos reaparece, no século IV antes de nossa era, num autor do qual Plutarco nos diz ²⁸ que atribuía a conquista de Roma pelos Gauleses, por volta de 390, a “um exército saído do país dos Hyperbóreos”. Da mesma forma, um historiador contemporâneo de Alexandre o Grande, Hecateu de Abdera cita os Hyperbóreos e descreve como adoradores de Apolo, periodicamente visitados por esse deus, os habitantes de uma ilha setentrional que só pode ser a Grã-Bretanha, pois, diz Diodoro de Sicília (II, 47), — por quem conhecemos esse fragmento de Hecateu —, ela é “não menos grande que a Sicília e situada além da Céltica, no Oceano”. O espaço marinho britânico será ainda qualificado de hyperbóreo por um poeta dos últimos tempos do Império romano ²⁹.
Por mais afastados que pudessem estar uns dos outros, supunha-se que os povos que os contemporâneos de Heródoto qualificavam de Hyperbóreos habitavam a costa de um mesmo mar, este “outro mar”, como o chamava, como visto, o historiador Damastês de Sigeion. Recobrindo aquela das faces do continente europeu oposta à face mediterrânea, este “outro mar”, mais frequentemente chamado mar Exterior, era aquele que era formado pelo conjunto da parte do Oceano hoje denominado golfo de Gasconha, os mares britânicos, o mar do Norte e o que Heródoto designa (III, 115), sem poder afirmar a realidade de sua existência, como o “mar setentrional donde se diz que nos chega o âmbar” (isto é, o atual mar Báltico). Segundo Damastês de Sigeion ³⁰, o “outro mar” se prolongava a Leste, com os Hyperbóreos por habitantes, até o Norte do espaço onde vivem os Citas, habitantes da atual planície russa.
O testemunho desse historiador e o de Píndaro, que se completam um ao outro, nos trazem então junto a lembrança dum tempo em que os Gregos viam em imaginação, além das supostas montanhas que chamavam de Rípeas, desdobrarem-se, ao longo do mar Exterior, desde a extremidade oceânica dos Pireneus até aos confins da Ásia, uma banda hyperbórea, cujos traçado e posição em latitude não teriam podido além disso definir.
 |
| Mapa múndi segundo Heródoto (séc. V a.C.) |
Heródoto (III, 115 e IV, 45) nos faz medir o alcance dessas ignorâncias, que persistiram muito tempo depois dele. Numa época já muito próxima do estabelecimento da dominação romana na Gália oceânica, um sábio que só precede César no tempo de trinta anos, Posidônio, afirmava ainda, se for preciso crer num escoliasta de Apolônio de Rhodes ³¹, que os Alpes confinavam com as regiões habitadas pelos Hyperbóreos.
Até a conquista romana, Hyperbóreos e Montes Rípeos, essas duas representações míticas inseparáveis uma da outra ³² puderam, sem concorrência, se impor aos espíritos como noções geográficas fundamentais. Lá onde, diferentemente, só teria havido vazio, essa ficção manifestava a existência duma costa habitada, marcava abaixo dessa costa uma linha de relevos, sugeria a ideia de fenômenos climáticos em relação com esses relevos, obtinha enfim o meio de designar com um nome eloquente os dos povos da Europa extra-mediterrânea dos quais não se sabia como eles próprios se nomeavam.
Mais tarde, à medida que se ficou conhecendo os nomes autênticos desses povos, os nomes nativos, estes substituíram a designação de Hyperbóreos, cujas aplicações ficaram assim progressivamente reduzidas ³³. Vê-se em Estrabão (VII, 3, 1) que na época em que esse geógrafo escrevia, a penetração dos exércitos romanos, revelando os nomes reais das populações que se sucediam, ao longo da costa do mar Exterior, até ao estuário do Elba, deitando luz sobre os traços essenciais da configuração física dos lugares, tinham banido os Hyperbóreos desta parte do mundo ocidental, donde eram apagados os montes Rípeos. Mas daí não se seguiu, nos meios esclarecidos, uma reflexão resultando na rejeição sistemática e total da geografia mítica. Desta, historiadores e geógrafos continuaram a fazer uso para preencher os territórios ainda inexplorados que se estendiam a leste do Elba. Por volta de meados do século I de nossa era, nos escritos do geógrafo Pomponius Mela (I, 12-13 e III, 36), a gente reencontra os Hyperbóreos e os montes Rípeos relegados a norte do mar Cáspio, na Ásia setentrional. No século II enfim, na Geografia de Ptolemeu (III, 5, 5 e 10), montes Rípeos reaparecem ao norte do Palus Méotide (o atual mar de Azov) e o qualificativo de hyperbóreo se liga ainda aos confins do mundo setentrional desconhecido: montes hyperbóreos (V, 8, 7) e Sármatas Hyperbóreos (V, 8, 10) representam tudo o que a geografia física e a geografia humana podem, no norte da Ásia, perceber de mais afastado, enquanto que para a frente das costas ocidentais da Europa, está assinalado um oceano hyperbóreo (II, 2, 1) ao norte da Irlanda.
Imagens de felicidade associadas ao nome hyperbóreo
Ou porque eles retrataram seu país de maneira favorável, ou melhor devido à sua qualidade de habitantes de um oceano que forma o limite do mundo, Homero ³⁴ fez atribuir a eles as vantagens de que os habitantes dos Campos Elísios gozavam, igualmente situados "nos confins da terra", onde "a vida mais doce é oferecida aos humanos, sem neve, sem grande inverno...", os homens do Norte que levaram suas oferendas a Delos não eram considerados pelos Helenos como tendo que sofrer uma natureza inclemente. Qualificados de “nação santa ³⁵”, por Píndaro, os Hyperbóreos são retratados tanto por ele quanto mais tarde por Hecateu de Abdera ³⁶, sob os traços dum povo piedoso e sábio que um clima sem excesso e uma terra fértil contribuíam para tornar feliz e pacífico. Píndaro evoca as “magníficas hecatombes” que eles oferecem a Apolo, seus banquetes rituais que são, para esse deus, “a alegria mais viva” e a “via maravilhosa que leva a suas festas ³⁷”, enquanto que na tragédia de Ésquilo ³⁸ se diz que esses mesmos Hyperbóreos têm como quinhão mais ainda que a felicidade suprema.
Sem dúvida, no espírito dos Gregos, a ideia da frialdade era inseparável do nome de Bóreas. Mas eles situavam as costas hyperbóreas além dos montes Rípeos, donde se precipitava Bóreas. Pode-se imaginar que essas montanhas frias não tinham mais efeito sobre o clima da margem marítima hyperbórea, da mesma forma que as neves do Etna não têm sobre o litoral que se desdobra sob elas. Píndaro, fazendo alusão, na sua IIIª Olímpica (31-34), a uma viagem que Hércules fez até às fontes hyperbóreas do alegórico Istro, assim se exprime: “Ele visitou até este país que está além das aragens do frio Bóreas; lá, quando ele parou, admirou as árvores ³⁹...” O poeta especifica que as oliveiras figuravam no adereço arborescente com que se adornava a paisagem hyperbórea, tal como Hércules o descobriu e atribui-se ao herói a ideia de pedir aos Hyperbóreos que lhe dessem de presente uma oliveira que planejava trazer para a Grécia para ser plantada perto do santuário de Olímpia, que assim seria dotado de uma árvore “dando sua sombra à multidão de visitantes e fornecendo coroas de flores para os atletas ”⁴⁰.
Essa fábula ⁴¹, que inventaram evidentemente Mediterrâneos, incapazes de representar para si outra vegetação que a do mundo que lhe era familiar, originava-se de um erro menos grave, afinal de contas, que o de considerar a palavra “hyperbóreo” como expressão da situação de um povo sujeito aos rigores do clima polar. É fato que as costas, sob as latitudes em que se desdobram, onde se recolhia o âmbar, na orla do mar do Norte e do Báltico, gozam de um clima relativamente doce, e é possível que tenha havido um elemento de verdade na lenda atribuindo ao solo hyperbóreo uma alta fertilidade ⁴². Os habitantes da Dinamarca podem ter julgado sua terra maravilhosamente fértil, quando tiveram a ocasião de compará-la ao solo rochoso da Grécia.
Entre os Latinos, Pomponius Mela (III, 36-37) e Plínio o Velho (História Natural IV, 89-91) tomaram por conta própria a imagem favorável que a literatura grega esboçava do caráter dos Hyperbóreos e da natureza hyperbórea. Resulta do conjunto desses testemunhos que os povos que Heródoto e outros autores nos mostram atravessando a Europa para levar a Delos as primícias de suas colheitas viviam numa terra não somente habitável mas capaz de nutrir bem sua população.
Repentina alteração do clima atribuído pela lenda ao mundo hyperbóreo
Neste coro de louvores, as Geórgicas fazem ouvir uma nota discordante. Ao contrário da concepção tradicional segundo a qual os Hyperbóreos eram protegidos do frio por sua situação geográfica exterior à parte do mundo donde soprava Bóreas, Virgílio coloca em seu território a origem mesma desse vento, chamado por ele Aquilão vigoroso ⁴³, e qualifica de glacial ⁴⁴ a atmosfera onde vivem.
Sua opinião é compartilhada por um de seus contemporâneos, o geógrafo Estrabão, que exprime, sobre os Hyperbóreos, opiniões contrariando da mesma maneira as ideias comumente recebidas desde séculos.
Estrabão (I, 3, 22) repreende Heródoto “por ter suposto que o nome de Hyperbóreos pudesse designar povos onde Bóreas não sopra”. Sustenta que Bóreas sopra desde o próprio polo, bem como, desde o equador, seu contrário o vento do sul (notos), e que esses dois limites extremos do domínio dos ventos, são também os da extensão dos povos na superfície da terra, de tal maneira que os Hyperbóreos, que ele diz serem os mais setentrionais, βορειοτἄτους, de todos os povos devem ser, caso se tome à letra, considerados como vivendo na zona glacial, nos confins do polo.
Como pôde, sem violentar-se, aceitar propor a seu leitor tal visão das coisas, quando não contesta em nenhuma parte a tradição, relatada por Heródoto (IV, 33), e considerada por Plínio (História Natural IV, 91) como tendo valor de dado histórico, segundo a qual os Hyperbóreos mandavam levar, através da Europa, ao santuário de Delos, as primícias de suas colheitas? Estrabão nos surpreende aqui, quanto mais que professa, por outro lado, que as regiões próximas ao polo são inabitáveis devido ao frio: τα πρὸς τᾧ πόλῳ δὶα ψύχος (ἀοίκτά εστι). Admite com efeito (II, 2, 1-3) a divisão do globo terrestre em cinco zonas, tal como Posidônio havia exposto, cuja invenção atribuía a Parmênides de Elea: uma zona tórrida estendendo-se de um lado a outro do equador; duas zonas temperadas, uma no hemisfério norte, a outra no hemisfério sul; e duas zonas glaciais correspondendo às duas calotas polares e caracterizadas uma e outra pelo fato de que o frio impede o homem de aí se estabelecer de modo estável.
Na época que Estrabão escrevia, a astronomia grega tinha também descoberto, desde vários séculos já, que o polo era sujeito à alternância de um dia contínuo de seis meses consecutivos e de uma noite contínua de mesma duração ⁴⁵.
Colocar em tais condições de vida homens que a tradição apresentava como pessoas felizes recolhendo os frutos de uma terra generosa era um contra-senso. Teria valido tanto a pena eliminar o nome dos Hyperbóreos do vocabulário histórico e geográfico, como se teria feito de uma ficção pura com a qual não convinha que um homem razoável sobrecarregasse sua mente. Mas isso é o que não puderam fazer Estrabão, nem, depois dele, Pomponius Mela e Plínio, o Naturalista, tão fortemente estava estabelecido o prestígio dos antigos relatos nos quais os Hyperbóreos desempenhavam um papel que os incorporava à sociedade europeia dos tempos míticos. Não é possível, diz Plínio, questionar a existência desse povo: Nec licet dubitare de gente ea ⁴⁶, e é o que o próprio Estrabão admite implicitamente quando concorda em discutir a opinião outrora estabelecida, segundo a qual os Hyperbóreos moravam fora das áreas devastadas pela aragem do Bóreas.
No século I de nossa era, Pomponius Mela e Plínio assim se reencontraram, em suas pesquisas sobre os Hyperbóreos, em presença de dois dados contraditórios: um consagrado por uma tradição mais de cinco vezes secular; o outro recente, mas tendo para tal a alta autoridade de Virgílio e de Estrabão. O surpreendente é que não lhes tenha parecido dever rejeitar nem um nem outro. Como não terem visto que assim agindo eles iam ao encontro de gritantes absurdos?
Mela (III, 36), tirando a consequência da afirmação de Estrabão sobre as condições nas quais se manifesta Bóreas e sobre a posição dos “mais setentrionais” dentre os homens, situa os Hyperbóreos abaixo do ponto do céu pelo qual passa o gonzo (cardo) em volta do qual se efetua a revolução dos astros: sub ipso siderum cardine. É a definição mesma do polo tal qual o representava a astronomia grega. E para não deixar dúvida de que é o polo que ele atribui para morada dos Hyperbóreos, Mela especifica que, para eles, o ano se divide entre um dia que dura seis meses e uma noite de igual duração. Depois, sem nos dizer de que maneira a sequência de seu texto pode se conciliar com o início, ele garante que, sobre uma terra naturalmente fértil (per se fertilis) onde não faltam nem as florestas nem os bosques sagrados, esses mesmos Hyperbóreos vivem a feliz existência que lhes atribuía a antiga lenda grega.
Em termos pouco diferentes se encontra, em Plínio (Hist. Nat. IV, 89-91), a mesma associação de dados inconciliáveis: o local dos “gonzos do universo” (cardines mundi), quer dizer no polo mesmo, lá onde o sol fica visível durante seis meses consecutivos, vive, numa atmosfera agradavelmente temperada (felici temperie), entre as florestas e os bosques sagrados, o povo feliz (gens felix) dos Hyperbóreos, que se fez conhecer ao mundo pela oferenda que fazia no santuário de Delos das primícias de suas colheitas.
Em suma, Mela e Plínio, nas passagens em questão, teriam seguido fielmente a mitologia grega se não lhes tivesse parecido deverem recuar a morada dos Hyperbóreos até ao polo mesmo. Como esses sábios, que não ignoravam certamente a noção comumente conhecida dum polo inabitável devido ao frio, puderam julgar oportuno desfigurar assim um dado tradicional, fabuloso em mais de um ponto sem dúvida, mas contendo também elementos de verdade que se torna impossível de por em evidência quando se representa os Hyperbóreos como habitantes do polo?
Responsabilizar Estrabão por essa inovação desastrosa só seria uma maneira de adiar a dificuldade, agravando-a aliás, pois a gente compreenderia então menos ainda a razão por que esse geógrafo, em certas de suas afirmações sobre os Hyperbóreos, sustenta o oposto das afirmações que ele próprio formula alhures sobre a distribuição dos climas na superfície da terra. Não podemos fugir à impressão de que ele não acredita, que não pode acreditar na existência dessa humanidade confinada em uma zona gelada que também evoca, na poesia de seu contemporâneo Virgílio, a expressão Hyperboreas glacies.
A única maneira que a gente percebe de tornar plausível esse reencontro do poeta e do geógrafo consiste em supor que, sobre o ponto em questão, eles obedeceram a um e outro a uma palavra de ordem. Nem Virgílio nem Estrabão não deixam ignorar que põem um sua poesia e o outro sua ciência a serviço do poder e do prestígio de Roma. Sequamur... tua, Maecenas, haud mollia iussa, diz Virgílio nas Geórgicas (III, 40-41). E Estrabão (I, 1, 16): “A geografia é essencialmente orientada para as necessidades da vida política.”
Em que então esses autores podiam servir à política de Otávio ou de Augusto quando eles mostravam os Hyperbóreos como sujeitos aos rigores do clima polar?
Seria preciso, para julgá-lo, saber quais ideias suscitava então em Roma, no espírito do grande público o velho mito hyperbóreo, popular e sempre bem vivo, como o prova a acolhida que lhe fazem ainda os escritores dessa época. A gente já disse como esse mito tinha servido durante séculos para designar aqueles povos da parte extra-mediterrânea do continente sobre os quais ainda se ignorava que nomes eles se davam; depois, como seu alcance reduzira à medida que o progresso dos conhecimentos geográficos tinha resultado em conhecer os nomes autênticos desses povos. A gente vê através de Estrabão (VII, 3, 1) que no século de Augusto só se servia mais do nome de Hyperbóreos para designar humanos confinados na parte do mundo setentrional que permanecia fora do orbis romanus.
Ora, entre os países do Norte em que o poder romano ainda não estava estabelecido, figurava então uma importante parte do arquipélago britânico – a saber, a Irlanda –, e isso não era agradável ao orgulho dum povo a quem os deuses tinham prometido o império do mundo (entendamos não a posse do planeta inteiro, mas uma dominação estabelecida sobre a parte habitável ⁴⁷ do que se conhecia do universo).
Que, sob Augusto, a renúncia à conquista das ilhas britânicas tenha ocorrido intencionalmente, ou que se tivesse tido que renunciar a isso sob a pressão de circunstâncias contrárias ⁴⁸, parece, não obstante, que foi solicitado a Estrabão para explicar ao público esclarecido que, se Roma não tinha feito essa conquista, é porque ela tinha boas razões para se abster disso: os Romanos, “que podiam tomar posse da Bretanha”, escreve ele (II, 5, 8), “desdenharam de fazê-lo”. César, no entanto, tinha planejado, da parte da ilha onde as suas operações militares o tinham conduzido, uma imagem ⁴⁹ que não era a de um país sem vantagens naturais. Ele notou em particular que o clima lá era "mais temperado que o da Gália, o frio sendo menos rigoroso ” (de Bello Gallico, V, 12, 6).
Mas, desde a publicação de de Bello Gallico, as circunstâncias políticas, no Ocidente, haviam tomado uma direção que incitou Estrabão a mudar a conversa. Fiel à doutrina que ele professa (I, 1, 18), e segundo a qual a razão de ser da geografia é colocar-se a serviço dos governantes e acomodar-se às necessidades deles, defende que as terras que constituem o arquipélago britânico não merecem, nem por suas disposições naturais, nem pelo estado de civilização de seus habitantes, que Roma se dê ao trabalho de conquistá-las. Ele cita, como exemplo, o caso de Ierné (a Irlanda), cujo clima, ele diz em várias ocasiões (I, 4, 4; II, 1, 13 e 17), é “quase insuportável” por causa do frio.
Se era inoportuno apresentar sob uma luz lisonjeira a descrição física e humana de um pedaço da Europa escapando ao império de Roma, com mais razão se deveria abster-se de atribuir aos Hyperbóreos, os quais eram eles também Europeus escapando ao domínio romano, o clima feliz, a terra generosa e os costumes exemplares com que a lenda os gratificava. Que este Éden povoado por homens piedosos e justos ficasse fora do orbis romanus, eis o que teria sido contrário à verdade primeira que Estrabão (XVII, 3, 24), na conclusão de sua monumental obra ⁵⁰, formula nestes termos: “Os Romanos, superiores a todos os conquistadores cuja memória a história conservou, chegaram a possuir o que a terra habitada contém de mais rico e famoso...” Na Europa, da qual retêm a maior parte, o que eles deixam fora de seu império “é ou inabitável ou habitado apenas por populações miseráveis e nômades ⁵¹”.
Era então desejável, na época de Augusto, que, no espírito do público, o nome de Hyperbóreos deixasse de despertar ideias de natureza favorável, de humanidade virtuosa e de felicidade. É o que autores dóceis às sugestões do Mestre buscaram obter representando o mundo hyperbóreo como sujeito aos rigores do clima polar e sem outros habitantes, lá onde se achavam humanos, apenas seres enterrados na mais baixa barbárie.
Vãs tentativas. Vimos como, no século seguinte, as imagens tradicionais ainda encontram acolhida em Pomponius Mela e Plínio o Velho, que, no entanto, se abstêem de denunciar o absurdo da passagem pelas fronteiras dos Hyperbóreos na zona glacial. Por não terem ousado posicionar-se contra essa recente e tendenciosa correção da lenda, eles aceitaram que seu trabalho deveria permanecer, neste capítulo, manchado por um absurdo que não é o menor dos delitos atribuíveis a uma geografia que Estrabão (I, i, 14) define como tendo que ser “acima de tudo política”, πολιτικωτἔραν.
I. NOTAS EXPLICATIVAS
Fonte: DION, Roger, «La notion d'Hyperboréens. Ses vicissicitudes au cours de l'Antiquité», Bulletin de l’ Association Guillaume Budé-BAGB, nº 2, junho de 1976, p. 143-157; in TAILLANDIER, Guillaume: HYPERBOREE, Texts et Documents
